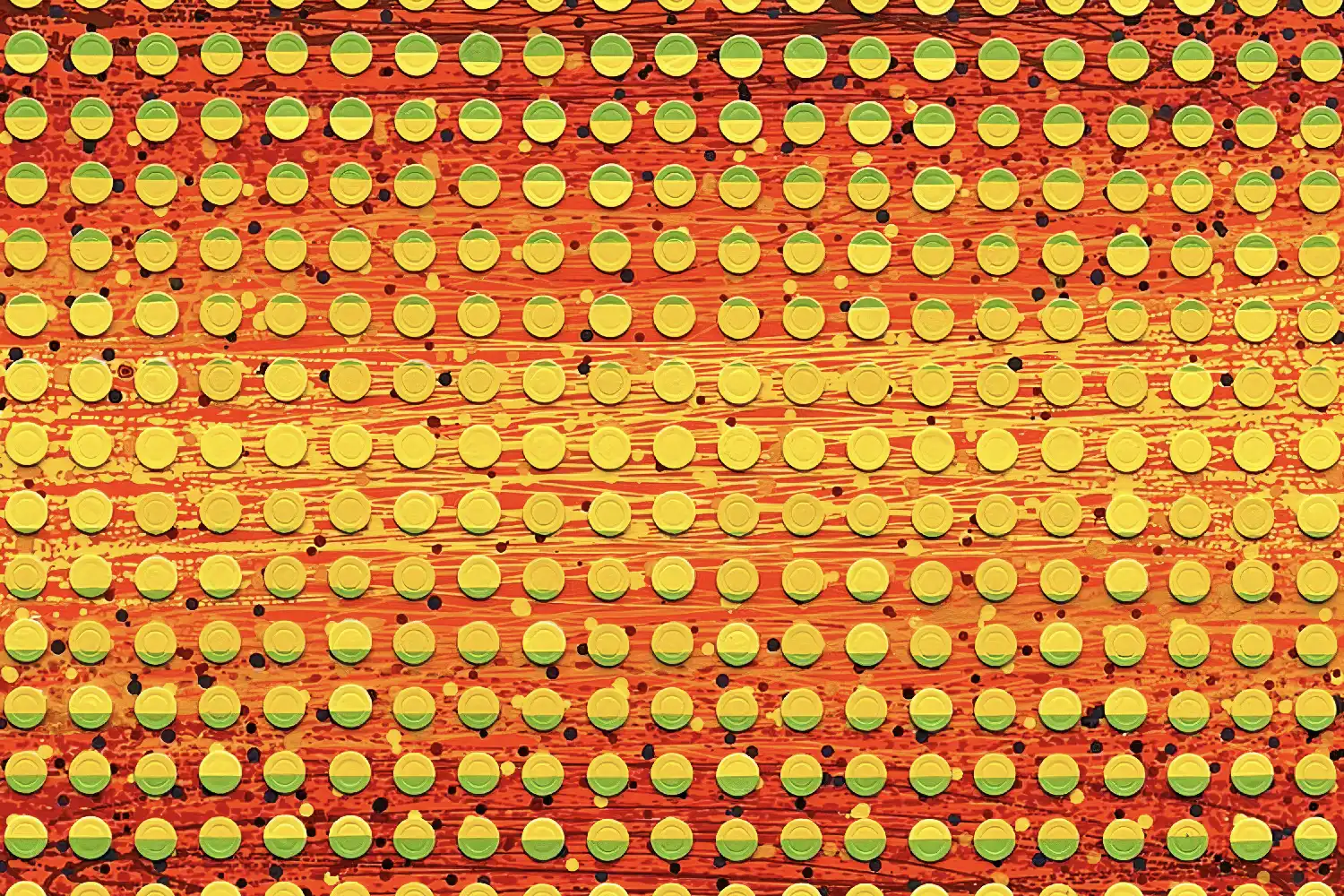Os materiais – uma pluralidade crescente
O que é uma escultura contemporânea? Essa questão, em aparência simples, pede menos uma definição do que uma cartografia em movimento. Pois a escultura já não é uma disciplina limitada a um material nobre ou a uma ferramenta reconhecível. Hoje ela é atravessada por uma multiplicidade de práticas, abordagens e gestos que abalam seus fundamentos tradicionais. Os artistas manipulam bronze ou chiclete, mármore ou metal enferrujado, argila, resina, cinza, tecido, açúcar ou até mesmo o próprio ar. Já não é a estabilidade do material que funda a obra, mas o que o artista faz dele: a maneira como o coloca em jogo em um espaço de espera, de interrupção, de contato ou de instabilidade.
Matéria ativa – matéria resistente
A escultura contemporânea e a matéria não se definem mais pela durabilidade ou pela nobreza. Richard Serra mostrou seu poder físico com Tilted Arc, que obrigava o corpo a mudar de trajetória. Gianni Motti elimina a matéria e a substitui pelo gesto ou pelo rumor. Susana Solano aprisiona o espaço em volumes fechados, enquanto Erwin Wurm transforma o espectador em material provisório em suas One Minute Sculptures. Giuseppe Penone revela as formas latentes da árvore ou da pedra, enquanto Anish Kapoor abre abismos visuais. Cornelia Parker, com Cold Dark Matter, suspende os fragmentos de uma explosão. Aqui, a matéria é instável, ausente ou explosiva, mas sempre endereçada. Na escultura contemporânea e na matéria, o que conta não é mais o que se vê, mas o que se experimenta.
Entrada de uma figura
Nesse contexto, René Mayer opta por um retorno ao gesto e ao volume tangível. Sua abordagem parte da modelagem direta em argila, onde a matéria é apreendida primeiro como experiência tátil. Essas pequenas estatuetas são às vezes transpostas em pedra por ateliês especializados, dando origem à série “Mármore & granito”. Já em “Viva Viva”, cada peça é moldada e pintada apenas por ele. René Mayer aceita, portanto, dois regimes: um trabalho coletivo, no qual a matéria se monumentaliza, e um trabalho individual, imediato, em que a matéria permanece bruta e colorida. Essa tensão ilustra uma singularidade na escultura contemporânea e na matéria: a aliança entre um gesto íntimo e uma realização durável.
Duas famílias – um mesmo sopro
As séries “Viva Viva” e “Mármore & granito” parecem opostas: as primeiras coloridas, expressivas e espontâneas; as segundas polidas, estáveis e silenciosas. No entanto, pertencem a uma mesma pesquisa. Ambas procuram dar forma a uma presença. Paolo Bonfiglio falou de “esculturas cefalópodes, sem boca mas com um olhar imenso”. Essa definição destaca o que une os dois conjuntos: não um estilo, mas uma atitude diante da escultura contemporânea e da matéria. Mayer não busca representar, mas fazer existir formas que impõem sua presença por si mesmas.
Arquétipos e fragmentos
As esculturas de René Mayer não imitam, mas evocam arquétipos. Uma cabeça sem rosto, um bloco entalhado, duas formas frente a frente: tantas figuras fragmentárias que lembram presenças humanas sem figurá-las. Em The Egoist ou Holy Moly, a forma se fecha deixando ainda passar um olhar. Em The Other Side, duas massas parecem dialogar sem se encontrar. Essas obras não contam, elas duram. Inscrevem-se numa filiação com certos artistas do século XX — Richier, Fautrier, Abakanowicz — mas sem pathos. Na escultura contemporânea e na matéria, tal como Mayer a pratica, o inacabamento não é fraqueza, mas força.
O lugar como extensão da forma
Instaladas na natureza piemontesa, suas esculturas não se impõem à paisagem: inscrevem-se nela. O mármore torna-se musgo, o granito capta a luz. Sua presença é discreta, ajustada, sem monumentalidade forçada. A série “Viva Viva” também se inspira em lembranças do carnaval da Basileia: máscaras coloridas, aparições grotescas. Mas não se trata de citação: apenas de uma energia transposta em formas lúdicas. Essa inserção no ambiente ilustra uma abordagem particular da escultura contemporânea e da matéria: não colonizar o espaço, mas habitá-lo.
Conclusão – uma forma de insistência
Num mundo dominado pela velocidade e pela imagem efêmera, René Mayer opõe a persistência da matéria. Suas “Viva Viva” assim como suas “Mármore & granito” mostram que a escultura contemporânea e a matéria não são conceitos a ilustrar, mas um campo de experiência. Mayer não busca explicar, ele faz: modela, ajusta, dirige. O que deixa são formas que se sustentam, que resistem, que perduram. Sua obra testemunha uma insistência: recusar a leveza do fluxo e afirmar a gravidade das formas. Assim, sua escultura contemporânea e a matéria tornam-se um lugar de consistência, de densidade e de silêncio habitado.